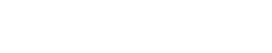Não sei se você, como eu, leu e amou os livros de Laura Ingalls Wilder. Uma Casa na Floresta, Uma Casa na Campina, toda a série de livros que contam a saga da família Ingalls, típicos pioneiros norte-americanos, daqueles que cruzaram o país em carroças, para “fazer a vida” no oeste. Os livros foram escritos na década de 1930.
Mesmo que você não tenha lido os livros, talvez conheça a saga pela telinha. A história da família é base para uma excelente série de TV, Os Pioneiros, que durou de 1974 a 1983.

Então. Laura Ingalls virou uma escritora de sucesso, uma referência nos Estados Unidos, tanto que seu nome foi usado para batizar um importante prêmio literário infantil, o “Laura Ingalls Wilder Award”, concedido pela Association for Library Service to Children. Até que, este ano, o nome da premiação foi trocado para “Children’s Literature Legacy Award”. A escritora deixou de ser homenageada.
Sabe a razão? Trechos de sua obra que não se encaixam no mundo contemporâneo. Coisas do tipo dizer que uma região “não tinha gente morando nela, somente índios”. O que foi interpretado como se ela quisesse dizer que índio não é gente. Laura Ingalls Wilder morreu em 1957. Ainda em vida, edições de seus livros corrigiram esse tipo de visão, que pode, é claro, ser vista como ofensiva. A própria autora declarou que “foi um erro estúpido meu. Claro, os índios são pessoas e eu não pretendia dizer que eles não eram”. Coisas que acontecem, especialmente refletindo um tempo em que o preconceito era gigantesco – assim como o genocídio indígena que foi uma característica da colonização do oeste norte-americano.
Ou seja, a polêmica é antiga, chegou a ser revista pela própria escritora, em vida. Mas isso não parece ser suficiente, em um tempo em que revisão histórica tem sido confundida com retaliação. Perde-se a chance, sempre desejável, de simplesmente aproveitar as diferenças de visão de mundo, ao longo do tempo, para enriquecer a conversa. Melhor varrer Laura Ingalls Wilder para baixo do tapete e fingir que sempre fomos justos, livres de preconceitos, perfeitos. Logo nós, seres humanos. Um projeto bugado.
Essa intransigência com livros de uma outra época nos traz para nosso próprio território. Faz lembrar, rapidinho, da “desconstrução” que tem sido feita na obra infantil de Monteiro Lobato. Nosso mais do que querido Sítio do Picapau Amarelo – também escrito nas primeiras décadas do século passado – já foi ameaçado de banimento, por trechos racistas. E agora que sua obra caiu em domínio público, corre o risco de ter suas histórias clássicas reescritas, para encaixarem no politicamente correto.
Vou deixar claro: eu acredito que o politicamente correto é uma ferramenta extremamente necessária. A gente tem que rever conceitos, tem que reaprender a se comunicar sem ofender ninguém. Tem que aprender a ouvir as vítimas de preconceito e respeitar o que elas sentem. Tem que deixar de achar engraçado o que é puro preconceito. Pensar e repensar é evoluir. Achar que isso é chato… é pura preguiça, pura vontade de manter tudo como sempre foi, para não ter que pensar e se questionar. Não rola.
Mas o politicamente correto não pode ser simplesmente uma borracha. Porque uma coisa é deixar de usar a palavra “denegrir” (veja só, o corretor do Word já me sugere trocar denegrir por difamar. Muito bem!), outra é descaracterizar os livros da turma do Sítio. É preciso passar um pouco mais de trabalho, usar um pouco mais a inteligência. Que tal promover a leitura crítica? Que tal incluir anexos explicando o contexto das coisas e propondo atividades que façam refletir sobre preconceito, racismo, sobre o que deixou de ser aceitável e corrente, sobre como pensavam nossos antepassados e como pensamos hoje? Que tal deixar a obra intacta e usá-la como base para um diálogo refrescante, que torne nossa compreensão do passado, do presente e do futuro mais equilibrada? Que tal não responder preconceito com preconceito?
Será que a gente consegue?
![]()
Claudia Bia – jornalista e fã da boneca Emília desde criancinha